O tema central é a possibilidade de incluir, na fase de execução de uma condenação trabalhista, empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico que não fizeram parte da ação original (fase de conhecimento). Em outras palavras, discute-se se uma empresa não processada inicialmente pode ter seus bens penhorados para pagar dívidas trabalhistas de outra empresa do grupo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para proibir essa inclusão automática: os ministros entenderam que uma empresa do mesmo grupo não pode ser diretamente incluída na execução de uma sentença trabalhista se não participou da fase inicial do processo. Essa decisão ocorreu no julgamento do Recurso Extraordinário 1.387.795 (Tema 1.232 de repercussão geral) e representa uma mudança significativa na forma como as dívidas trabalhistas são cobradas de grupos empresariais no Brasil.
Na prática, a decisão do STF estabelece que, salvo situações excepcionais (como fraude ou abuso deliberado), a responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo não poderá ser cobrada na marra, depois do processo concluído, sem que a empresa tenha integrado a ação desde o início. Isso reforça que cada empresa, mesmo pertencente a um grupo, tem direito ao devido processo legal – isto é, de ser ouvida e se defender antes de ter que arcar com a dívida. O entendimento firmado pela maioria dos ministros deixa claro que quem não foi parte no processo de conhecimento não deve figurar como devedor na execução, a não ser que se comprove uma manobra ilícita para fraudar credores trabalhistas.
A discussão é importante porque toca em dois pilares do Direito que frequentemente entram em tensão: de um lado, a proteção ao trabalhador e a efetividade das condenações trabalhistas; de outro, a segurança jurídica e o direito de defesa das empresas. Decidir se uma empresa pode ser executada por uma dívida sem ter sido parte no processo original envolve ponderar o princípio da proteção ao crédito trabalhista (evitar calotes via “empresa laranja” ou grupo econômico) versus os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Antes da decisão do STF, muitas vezes privilegiava-se a satisfação do crédito do trabalhador a qualquer custo – mesmo que isso significasse penhorar bens de uma empresa que não teve chance de se defender na ação. Essa prática, apesar de bem intencionada na ótica trabalhista, gerava insegurança jurídica para os negócios. Empresas alegavam ser surpreendidas com cobranças inesperadas, sem terem participado do julgamento, o que violaria a ideia básica de que “ninguém deve ser privado de seus bens sem o devido processo legal” (CF, art. 5º, LIV). A falta de critérios uniformes também gerou decisões conflitantes nos tribunais: enquanto a Justiça do Trabalho tendia a permitir essas inclusões tardias, a Justiça comum e dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) apontavam o contrário, criando um ambiente de insegurança e contradição.
Ao fixar um entendimento nacional, o STF busca trazer equilíbrio e previsibilidade. Segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT), que atuou como amicus curiae no caso, a nova diretriz preserva o equilíbrio entre a necessária proteção trabalhista e a estabilidade das atividades econômicas. Empresas de boa-fé passam a ter maior confiança de que não serão responsabilizadas de surpresa por dívidas alheias, enquanto mantém-se a possibilidade de punir abusos reais (fraudes) de grupos econômicos.
Antes dessa virada jurisprudencial, era comum a Justiça do Trabalho permitir que, na fase de execução da sentença, o reclamante redirecionasse a cobrança para outra empresa do grupo econômico da devedora original. Isso se embasava no art. 2º, §2º da CLT, que estabelece a responsabilidade solidária das empresas do mesmo grupo em obrigações trabalhistas. Até 2003, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) tinha a Súmula 205, que proibia incluir empresa não mencionada na sentença na execução. Contudo, essa súmula foi cancelada em 2003 e, a partir daí, consolidou-se o entendimento de que bastava comprovar o vínculo de grupo econômico para permitir a inclusão na fase executória, mesmo que a empresa não tivesse figurado no título executivo. Em resumo, se ficasse demonstrado que as empresas faziam parte do mesmo conglomerado, a execução poderia ser ampliada para as demais – o que o TST via como natural desdobramento da solidariedade prevista na CLT.
Essa prática buscava evitar calotes trabalhistas via artifícios como “empresas fantasmas” ou esvaziamento de patrimônio. Por exemplo, se uma empresa “A” (empregadora direta) não possuía bens para pagar a condenação, o credor trabalhista pedia o bloqueio de contas de uma empresa “B” do mesmo grupo, muitas vezes sem um processo formal de desconsideração de personalidade jurídica. De fato, decisões trabalhistas chegaram a admitir bloqueios automáticos contra empresas do grupo, mesmo ausentes no processo original, muitas vezes com base em indícios superficiais .
Realidade gerou situações insólitas
Do ponto de vista jurídico, instalou-se um conflito: de um lado, defensores da prática argumentavam que a CLT não exige que a empresa esteja no polo passivo inicial para responder na execução, podendo ela se defender via embargos à execução posteriormente. Esse era o entendimento sustentado pela maioria do TST nos últimos anos e endossado por ministros como Edson Fachin e Alexandre de Moraes no STF. Moraes, por exemplo, alertou que vedar totalmente a inclusão tardia prejudicaria a tutela trabalhista, pois em muitos casos a “parte boa” do negócio é repassada a outras empresas do grupo, enquanto a devedora vai à falência, deixando trabalhadores a ver navios. Exigir que o empregado identifique todas as empresas solidárias já na petição inicial seria inviável na prática. Assim, para essa corrente, a Justiça do Trabalho agia para evitar fraudes e garantir efetividade – e não violaria o contraditório, pois a empresa incluída poderia se defender na própria fase de execução (embora já com bens bloqueados).
Por outro lado, críticos desse modelo – agora vitoriosos no STF – sustentaram que a prática violava, sim, princípios basilares. Argumentaram que o CPC de 2015, no art. 513, §5º, veda expressamente cumprir sentença contra quem não participou da fase de conhecimento . Para eles, permitir isso na seara laboral seria tratar o grupo econômico como pretexto para ignorar a personalidade jurídica de cada empresa, sem seguir os ritos formais (como o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto no art. 855-A da CLT e 133 do CPC). Além disso, a Reforma Trabalhista de 2017 redefiniu o conceito de grupo econômico na CLT, exigindo interesse integrado e atuação conjunta (§3º do art. 2º), justamente para coibir a interpretação de “grupo” de forma indiscriminada. Logo, flexibilizar o contraditório em nome da solidariedade ampliada seria ir além do que a lei permite e comprometer a confiança nas regras do jogo.
A decisão do STF traz efeitos imediatos na previsibilidade das relações trabalhistas e empresariais. Em primeiro lugar, consolida-se um rito mais seguro: agora, o credor trabalhista sabe que, regra geral, se quiser atingir outras empresas do grupo, terá de incluí-las já na petição inicial ou promover um incidente específico ao longo do processo. Isso evita “surpresas” na execução – tanto para o trabalhador (que já aponta todos os co-responsáveis de saída), quanto para as empresas (que saberão desde o início se estão sendo acionadas). Conforme noticiado, “a decisão consolida um rito que garante maior previsibilidade e segurança jurídica às empresas”, encerrando anos de divergências jurisprudenciais. Inclusive, o próprio STF havia suspendido milhares de execuções trabalhistas em 2023, aguardando este desfecho, para estancar decisões conflitantes que causavam efeitos nocivos às relações jurídicas e econômicas. Com a questão pacificada, ganha-se em segurança jurídica, isonomia e economia processual – valores fundamentais para um ambiente de negócios saudável.
Um setor particularmente beneficiado é o de fusões e aquisições (M&A). Investidores e compradores costumam temer o chamado “passivo trabalhista oculto” ao adquirir empresas no Brasil – e essa insegurança aumenta quando qualquer empresa do conglomerado pode, de repente, ser chamada a pagar por um processo trabalhista alheio. A nova diretriz do STF limita esse risco, tornando-o mais delimitado e condicionado a situações excepcionais. Analistas apontam que a mudança traz alento a empresas e investidores, sendo “especialmente positiva para o mercado de fusões e aquisições e private equity”, cujas operações muitas vezes eram mal interpretadas pela Justiça do Trabalho . Em outras palavras, a partir de agora fica mais claro que uma empresa que compra outra ou que faz parte de um grupo só responderá por débitos trabalhistas terceiros se ficar provado um conluio fraudulento ou sucessão irregular – não mais por mera associação societária. Essa clareza deve se traduzir em negócios mais confiantes, menor custo de transação (já que o desconto por risco trabalhista tende a diminuir) e incentivo ao empreendedorismo, sem comprometer direitos dos trabalhadores.
Do ponto de vista contábil e regulatório, também há impactos. O CPC 25 – norma contábil que trata de provisões e passivos contingentes – obriga empresas a divulgarem e provisionarem perdas trabalhistas prováveis. Antes, pertencer a um grupo empresarial podia significar que até contingências de empresas irmãs precisassem ser consideradas nas provisões, dada a chance de “contaminação” na fase de execução. Agora, com critérios mais objetivos dados pelo STF, as companhias podem reavaliar o grau de risco de certas contingências. Passivos trabalhistas de outras entidades do grupo, que antes poderiam ser vistos como uma ameaça concreta, talvez passem a ser classificados como passivos meramente possíveis (não exigindo provisão contábil) se não houver indícios de fraude ou sucessão. Em resumo, a blindagem jurídica proporcionada pela decisão permite um cálculo de riscos mais exato. As demonstrações financeiras tendem a refletir um passivo trabalhista mais aderente à realidade legal, o que também agrada investidores e auditores – afinal, previsibilidade jurídica converge com previsibilidade financeira.
Houve debate intenso sobre esse tema, e opiniões ilustram os dois lados da moeda. De um lado, muitos juristas celebram a decisão do STF por fortalecer garantias constitucionais sem abandonar a responsabilidade trabalhista. Por exemplo, o advogado Werner Damásio avaliou que o novo entendimento “valoriza o contraditório e limita inclusões abusivas em execuções trabalhistas”. Em sua análise, ao exigir que todas as partes potencialmente responsáveis estejam presentes desde o início, o STF corrige distorções e restaura o equilíbrio entre os direitos do trabalhador e o direito de defesa do empregador. Da mesma forma, o ministro do TST Douglas Alencar Rodrigues e coautores apontaram que o debate do Tema 1.232 sempre foi sobre equilibrar segurança jurídica e direitos trabalhistas na execução, buscando uma solução que não inviabilize o crédito do empregado, mas que também respeite os limites do devido processo. Ou seja, a solução passa por “colocar cada coisa em seu lugar”: grupo econômico gera solidariedade, sim, porém dentro de um procedimento justo e previamente conhecido.
A Confederação Nacional do Transporte (CNT) – parte interessada que provocou a ADPF 488 e atuou no RE 1.387.795 – também comemorou a definição. Para a CNT, a prática anterior não tinha amparo legal e “atropelava” direitos de defesa  . Seus representantes defenderam que “empresa que não participou do processo de conhecimento não pode ser responsabilizada”, pois do contrário o processo executivo se tornava um verdadeiro “tiro no escuro” para as empresas surpreendidas. A decisão do STF, na visão do gerente jurídico Frederico Toledo (CNT), traz justamente a segurança jurídica que faltava e estabiliza as expectativas dos atores econômicos. Em termos práticos, acreditam que os créditos trabalhistas continuarão sendo cobrados, mas agora com rito mais transparente e contraditório efetivo, o que a longo prazo beneficia o próprio trabalhador ao evitar nulidades e recursos intermináveis.
Por outro lado, há vozes dissonantes e preocupadas com os possíveis efeitos negativos. O ministro Alexandre de Moraes, em seu voto vencido, manifestou temor de que a impossibilidade de inclusão posterior “prejudica enormemente a proteção trabalhista” e frustra o propósito da reforma de 2017. Ele e outros juristas alinhados a essa visão sustentam que, na realidade brasileira, grupos empresariais podem usar a fragmentação societária justamente para diluir responsabilidades – e uma postura mais rígida do Judiciário poderia abrir brechas para inadimplência de obrigações trabalhistas. Alguns advogados trabalhistas lembram que embargos à execução sempre deram chance de defesa à empresa incluída, e questionam se a exigência de citação prévia não criará um fardo impossível ao trabalhador (que muitas vezes desconhece a estrutura corporativa do empregador). Há também quem veja na decisão do STF um possível enfraquecimento do crédito trabalhista, tradicionalmente superprivilegiado no Brasil, temendo que grupos inescrupulosos sintam-se “mais seguros para não pagar” dívidas se conseguirem manter as empresas operacionais fora do processo inicial.
Mesmo entre os entusiastas da segurança jurídica há nuances: o ministro Cristiano Zanin, por exemplo, apoiou a tese vencedora, mas fez questão de frisar que não se deve confundir grupo econômico com desconsideração da personalidade jurídica. Ele propôs uma fórmula intermediária, reconhecendo a solidariedade nas hipóteses de grupo (art. 2º, §§2º e 3º da CLT), porém exigindo que a empresa tenha tido oportunidade de se manifestar desde o começo ou, se surgir um fato novo depois, que se utilize o procedimento legal adequado (o incidente de desconsideração). Essa visão ganhou adesão justamente por fechar a porta para a inclusão irrestrita, mas deixar uma janela aberta: se houver fraude, abuso ou sucessão irregular comprovada, a Justiça do Trabalho ainda poderá redirecionar a execução, observando o devido processo. Em suma, a mensagem dos especialistas é que a decisão do STF não elimina a responsabilidade de grupos econômicos, e sim organiza o modo de apurá-la, garantindo defesa. Nas palavras do ministro Luiz Fux, a medida “uniformiza a jurisprudência e garante segurança jurídica” num tema delicado, sinalizando que nem credores nem devedores serão pegos de surpresa doravante.
O novo precedente do STF sobre grupos econômicos na execução trabalhista marca um divisor de águas – e também levanta perguntas provocativas. Ao trancar a porteira para inclusões indiscriminadas, a Suprema Corte aposta na instituição de um procedimento mais justo e previsível, algo que era muito requisitado pelo setor produtivo. Mas será que essa busca por segurança jurídica não pode, em alguma medida, dificultar a vida do trabalhador na prática? Afinal, empresas mal-intencionadas continuam podendo tentar driblar dívidas espalhando ativos em várias pessoas jurídicas. A resposta otimista é que fraudes flagrantes ainda serão alcançadas (pois o STF permitiu exceções em caso de abuso comprovado, e que agora isso será feito com mais critério e menos risco de erro. Entretanto, a dúvida permanece: e se, sob o manto da “segurança jurídica”, alguns grupos aumentarem a aposta na blindagem patrimonial? Teremos um equilíbrio ideal entre justiça do trabalho e direito empresarial, ou trocamos um problema por outro?
Provocações à parte, é inegável que a decisão traz um recado poderoso: nenhuma empresa deve ser condenada sem defesa, nem mesmo em nome de uma boa causa. Resta saber se os frutos dessa mudança serão tão positivos quanto se espera. No mundo real, previsibilidade jurídica costuma atrair investimentos e reduzir litígios – o que, a longo prazo, beneficia também os trabalhadores, na medida em que empresas mais saudáveis geram mais empregos e honram suas obrigações. Por outro lado, a execução trabalhista mais “engessada” exigirá mais diligência dos reclamantes e dos juízes de primeiro grau na identificação de responsáveis desde o início. Em última instância, caberá à própria Justiça do Trabalho aplicar o novo entendimento com inteligência: nem oito nem oitenta, mas sim garantindo que os espertalhões não escapem e que inocentes não paguem pelos pecadores. Essa equação entre proteger o crédito trabalhista e assegurar o devido processo legal ganhou um novo capítulo – e só o tempo dirá se encontramos a medida certa ou se novos ajustes serão necessários. Afinal, justiça boa é justiça equilibrada, e o desafio de balancear esses pratos continuará a provocar debates acalorados.

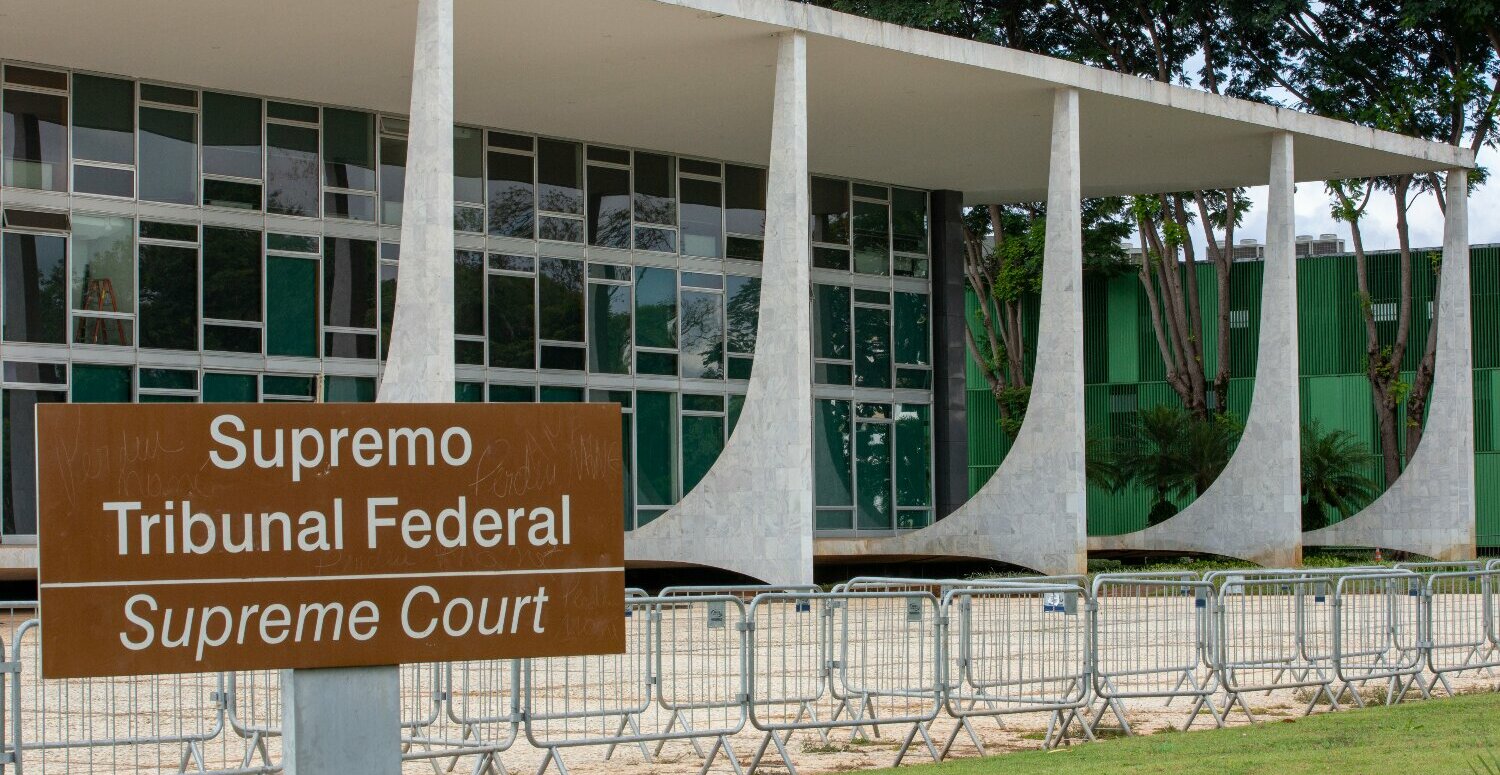
 Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil 











